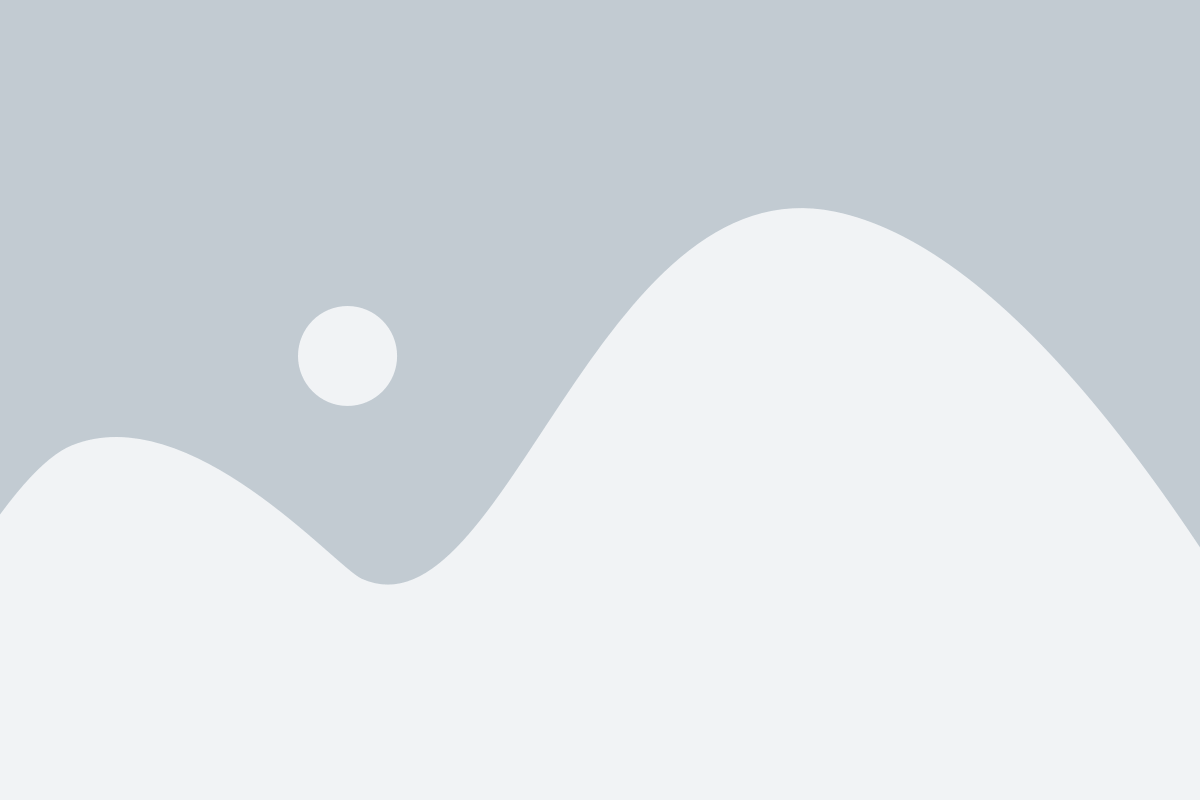Cresci em Praia Grande (SP) vendo a minha mãe, agente comunitária de saúde, bater de porta em porta. Eu via o cuidado virar rotina. Via a vulnerabilidade ter nome e endereço. E aprendi cedo que servir à comunidade não é discurso, é prática.
Quando eu me mudei para São Paulo para estudar na USP, eu conheci um Brasil que muita gente prefere não enxergar. Morei de favor. Passei fome. Pedi moedas no metrô para conseguir chegar às aulas. Eu não falo isso para virar personagem. Eu falo porque isso explica por que eu nunca tratei educação como símbolo, e sim como sobrevivência.
Foi a universidade pública que me deu a primeira fresta real de futuro. O estágio na Prefeitura, com R$ 690,00 por mês, parecia uma vitória impossível. Mas o que segurou meu corpo em pé foi o Restaurante Universitário, garantindo as refeições quando eu não tinha de onde tirar. O que impediu minha evasão foi política pública concreta. Auxílio permanência, passe livre, bolsas de pesquisa. Coisas simples no papel, gigantes na vida.
Eu recebi meu diagnóstico de autismo já adulto. Não foi rótulo, foi chave. Foi entender meu neurodesenvolvimento, reorganizar expectativas, e transformar aquilo que sempre esteve em mim em potência. Foi também enxergar que inclusão não é favor. É direito. E que representatividade não é vitrine. É presença real onde as decisões são tomadas.
Eu sou testemunha de uma verdade que não cabe em slogan. Educação coloca comida no prato. Educação dá dignidade. Educação devolve o amanhã. E quando o amanhã volta, ele não volta só para uma pessoa. Ele puxa junto todo mundo que veio do mesmo lugar.
É por isso que eu sigo. Porque eu já vi o que a falta de política pública faz. E eu já vivi o que a política pública bem feita é capaz de mudar. Hoje, quando eu falo de desinformação, plataformas e soberania digital, eu não estou falando de abstração. Eu estou falando de vida cotidiana, de serviços públicos, de território, de futuro.
Eu não cheguei até aqui para ser exceção. Eu cheguei para abrir passagem.
Estamos só começando.